A FORMAÇÃO POLÍTICA E O TRABALHO DO PROFESSOR?
Por Florestan Fernandes (São Paulo-SP, 1920 - São Paulo-SP, 1995. Patrono da Sociologia brasileira. Publicou mais de 50 livros e centenas de artigos. Professor de Sociologia da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP. Recebeu o Prêmio Jabuti, em 1964, pelo livro "Corpo e alma do Brasil" e foi agraciado postumamente, em 1996, com o Prêmio Anísio Teixeira).
Acho que um primeiro ponto essencial é o que diz respeito à tradição cultural brasileira e ao que ela tem representado na limitação do horizonte cultural do professor, menos na teoria que na prática. Se nós comparássemos o professor ao proletário, que preocupou as reflexões de Marx naqueles célebres manuscritos de 1844, diríamos que o professor foi objetificado e ainda o é na sociedade brasileira. Essa afirmação é curiosa, porque se ele não trabalha com as mãos, é um intelectual. É preciso tentar compreender essa brutalização cultural, que se faz desde o passado mais longínquo, e que chegou e ainda chega a ser tenebrosa com relação a professores, por exemplo, que se dedicam ao ensino de crianças – as célebres professoras primárias. Sou de uma época em que se lia em pequenos livros de memórias de uma professora, por exemplo, a história de uma professora que trabalhou numa fazenda. É preciso pensar nisto: desde esse professor até aqueles outros, como Mário Schenberg, que são considerados como grandes cabeças teóricas. Todos somos professores. Todos somos, fomos e seremos brutalizados. Esse é um tópico importante. O segundo tópico diz respeito à própria correlação entre a atividade do professor, numa sociedade subdesenvolvida, e o caráter político do que ele faz e do que deixa de fazer. E dentre as sociedades subdesenvolvidas, o Brasil se apresenta com características peculiares, por ser uma sociedade com desenvolvimento desigual muito forte e, portanto, por apresentar contrastes e contradições muito violentos. Não estou aqui para dar receitas, nem propor soluções. Venho participar de reflexões, com vocês, e minha função é a de provocar um debate.
Quanto ao primeiro ponto, é sabido que a orientação mais ou menos fechada, que prevaleceu no período colonial em relação à cultura e à educação, ela não foi desagregada com a Independência nem com a proclamação da República. A grande tradição cultural brasileira é de um elitismo cultural fechado, cerrado, numa sociedade na qual se cultivou, sempre, o conhecimento, o livro e até a filosofia da ilustração.
É algo muito curioso, porque a desconfiança em relação ao intelectual seguia paralela a uma atitude intelectual mais ou menos aberta, dependendo naturalmente de quem se fala. Quando vocês ouvem falar de um homem como o velho Conselheiro Nabuco, vocês têm um ponto de referência para avaliar o que foi essa elite num momento de apogeu. Um homem que estava preocupado com o marco das leis, com a transformação da sociedade brasileira em termos de uma organização institucional que garantisse um mínimo de liberdade e reduzisse o despotismo, sempre inerente à escravidão, que se manifestava em todas as direções – na relação do senhor com o escravo, nas relações do senhor com os homens pobres livres, que eram equivalentes humanos dos escravos (sem as garantias sociais que estes tinham por ser propriedade), nas relações do senhor com sua mulher, com todas as mulheres, com seus filhos, com todos os jovens. Era uma sociedade altamente hierarquizada. Mas, ao mesmo tempo, era também uma sociedade que precisava do intelectual. E o caminho que se descobriu para utilizar o intelectual foi o mesmo que orientou o seu uso pela Igreja Católica.
As instituições-chave foram taxativamente circunscritas a um perímetro de defesa exasperada da ordem existente. Mesmo nas escolas superiores isoladas, que foram o que nós conhecemos de mais avançado, graças à vinda da Corte para o Brasil e ao desenvolvimento posterior do Segundo Império, mesmo aí, o interesse que havia pela atividade intelectual propriamente dita estava vinculado à atividade administrativa e política indispensável desses profissionais liberais. O próprio professor interessava à medida que era um agente puro e simples de transmissão cultural. Sua relação com o estudante não era sequer uma relação criadora. Era a de preservar os níveis alcançados de realização da cultura por imitação. Nesse contexto, o intelectual era, por assim dizer, domesticado, quer fosse de origem nobre ou de origem plebeia, automaticamente se qualificava como um componente da elite e, quando isso não ocorria, como sucedeu com os professores de primeiras letras, ele era um elemento de mediação, na cadeia interminável de dominação política e cultural.
E a tendência perdura até hoje. Quando se fundou a Faculdade de Filosofia, os próprios fundadores tinham a ideia de uma renovação das elites. A ideia de que não estavam plantando, no Brasil, a sementeira de uma revolução cultural, mas sim, tentando renovar, fortalecer seus quadros humanos, para ganhar no campo da cultura a batalha que haviam perdido no campo da política. Portanto, é uma tradição cultural que empobrece a visão do que seria a cultura cívica. É muito importante a amplitude da cultura cívica de uma nação. Uma nação da periferia pode importar todas as técnicas sociais, todas as instituições-chave, todo o sistema de valores de uma dada civilização, mas nem por isso pode importar os dinamismos pelos quais essas técnicas, essas instituições e esses valores se reproduzem, crescem e se transformam. Esse lapso, que nos perseguiu de forma secular, tornou a invenção uma ocorrência efetiva, mas esporádica, possível apenas quando surgiam pessoas de tal porte criador que a repressão cultural não era capaz de inibir.
Se se aceita esta perspectiva entende-se por que o professor nunca foi posto num contexto de relação democrática com a sociedade. Ele era considerado como instrumento de dominação e, muitas vezes, ficava nas cadeias mais inferiores do processo, como aconteceu com o padre em relação ao escravo. O professor era aquele que ia saturar as páginas em branco, que caíam sob suas mãos, e ia marcá-las com o ferrete daquela sociedade. Eu me lembro de livros nos quais estudei e que foram elaborados para crianças, no fim do século XIX e no início do século XX. Por acaso caíram em minhas mãos e por aí eu aprendi muita coisa. Eram de bom nível, até em termos de nível intelectual, superior aos livros que as crianças usam hoje. Mas marcavam, de uma maneira quase que hierática, o caráter mecânico, autoritário da educação. A criança ia para a escola, não para se desenvolver como uma pessoa, mas para ser uma espécie de maquininha na sociedade em que iria viver. A diferença se faria naturalmente pela capacidade das famílias de reenriquecer esse empobrecimento cultural, porque era, de fato, um empobrecimento aprender técnicas divorciadas da capacidade de pensar e de ser diferente.
Por que a cultura cívica era tão circunscrita, tão fechada? Porque no Império a democracia era a democracia dos senhores. Na República foi uma democracia de oligarcas. Ou seja, aquilo que os antropólogos, que estudaram a África do Sul, chamaram de democracia restrita e que os nossos cientistas políticos têm medo de aplicar à sociedade brasileira. Para essa democracia restrita é dispensável uma cultura cívica e, quando existe alguma coisa parecida com uma cultura cívica, ela é acessível somente àqueles que fazem parte de uma minoria privilegiada, em termos de riqueza, em primeiro lugar, em termos de poder, em segundo lugar, e em termos de saber, em terceiro lugar. Essas três coisas eram interdependentes e se interligavam. No horizonte intelectual predominante, para aqueles que eram formados à luz da imaginação, da personalidade status dos membros das classes dominantes, das aspirações sociais das suas elites culturais – não cabia a ideia de que há uma cultura cívica que é de toda a nação. A nação eram “eles”. Aquele pequeno 'nós' coletivo, que era o mesmo praticamente de norte a sul. É preciso refletir objetivamente sobre isso, mas não construir mitos, fantasias, porque essa é a nossa realidade histórica.
Na carência de uma cultura cívica, a sociedade civil não era uma sociedade civil civilizada. Era uma sociedade civil rústica, uma sociedade civil na qual o despotismo senhorial ou do mandonismo, com outros componentes, tinham um papel vital. Pode-se avaliar isso quando surgem os primeiros educadores que fogem a esse padrão. Esses educadores são naturalmente rebentos da burguesia, principalmente da burguesia urbana, embora alguns, como é o caso de Anísio Teixeira, tenham raízes na sociedade senhorial, e outros, como Fernando de Azevedo e mais uns três ou quatro, sejam pessoas de famílias tradicionais, algumas que se mantiveram importantes, outras que decaíram socialmente. Esses educadores trouxeram para o Brasil, em nível de consciência social, uma perspectiva revolucionária sobre a educação. Anteciparam mudanças, que seriam potencialmente possíveis e necessárias, numa sociedade capitalista, mas que as classes dominantes brecaram, impediram. A cultura cívica era a cultura de uma sociedade de democracia restrita, inoperante, na relação da minoria poderosa e dominante com a massa da sociedade.
Essa massa era a gentinha; e, para ser a gentinha, a educação seria como uma pérola, que não deveria ser lançada aos porcos (ou então, seria uma espécie de ersatz, uma coisa elementar, rudimentar, que ajudaria a preparar máquinas humanas para o trabalho).
O educador precisa aprender biologia educacional, psicologia educacional, sociologia educacional, administração escolar, educação comparada, didática geral, didática especial e o que se vê são compartimentos, como se isso fosse uma espécie de saleiro. A gente põe um pouco de vinagre, um pouco de azeite, nenhuma matéria que diga respeito à capacitação política do professor, para enfrentar e compreender os seus papéis. O professor, quanto mais inocente sobre essas coisas, será mais acomodável e acomodado.
Anísio Teixeira fala, com acerto, que, com a implantação da República, a educação deixou de ser uma educação de príncipe para ser uma educação da massa dos cidadãos. É uma afirmação teórica, vamos dizer, abstrata. Na verdade, a massa de cidadãos continuou a ser ignorada como antes, mas a República criava esta obrigação para o estado e criava para o professor a necessidade de ser um agente ativo, que ia além daquilo que as elites culturais, econômicas e políticas estavam dispostas a admitir. Mas, no circuito das transformações, acabou prevalecendo a ideia, que era essencial na calibração dos professores, tanto na Escola Normal e no Instituto de Educação, quanto na Faculdade de Filosofia, segundo a qual o professor deve manter uma atitude de neutralidade ética com relação aos problemas da vida e com relação aos valores. Como um professor pode ser neutro na sala de aula? Como um investigador pode ser neutro em suas pesquisas? E, principalmente, como um técnico, em nível de ciências aplicadas, de tecnologia, pode ser neutro em relação ao controle de forças materiais, sociais, culturais, psicológicas etc.?
Esse debate sobre neutralidade ética implica a ideia de uma responsabilidade intelectual. Isto é, ela é o caminho pelo qual o especialista, saindo da escola normal ou da universidade, norteia-se em termos de uma relação de responsabilidade com a sociedade, isto é, com a ordem. Ele não é colocado numa relação de tensão, mas de acomodação. E quando ele abre o caminho da tensão por outras vias que não são estimuladas a partir do ensino e da pesquisa, nascem apesar das imposições e limitações formuladas em seu nome. A essa concepção correspondeu a ideia de que era necessário separar o cidadão do cientista e do professor. O cidadão está num lado, o educador está em outro. Entretanto, o principal elemento na condição humana do professor é o cidadão. Se o professor não tiver em si a figura forte do cidadão, acaba se tornando instrumental para qualquer manipulação, seja ela democrática ou totalitária. Todos os regimes manipulam. O totalitarismo não manipula sozinho a personalidade humana ou os pequenos grupos, as grandes massas. Manipulações são feitas em termos de interesses dominantes e com frequência de forma repressiva e opressiva. Este é um tema muito vasto para nossa exposição, mas de qualquer forma ajuda a entender a pobreza do circuito da cultura civil. Ela era tão esmagada, tão pobre que até esse traço da personalidade do professor é essencial no conjunto, como chave, para entender outras coisas. Deveria ser despojado da dimensão de cidadão, na sua prática educacional, na sala de aula. Mas, justamente ali, o professor precisa ser professor-cidadão e um ser humano rebelde.
Se o professor quer mudança, tem de realizá-la nos dois níveis – dentro da escola e fora dela. Tem de fundir seu papel de educador ao seu papel de cidadão – e se for levado, por situação de interesses e por valores, a ser um conservador, um reformista ou um revolucionário, ele sempre estará fundindo os dois papéis. Esse debate, hoje, tem uma grande atualidade, porque a cultura cívica agora deixa de ser um elemento mistificado e mistificador. Deixa de ser um fetiche, algo improvável ou algo de circuito estreito. A cultura cívica passa a ser aquilo que a sociedade toda está construindo, nas piores condições possíveis que poderíamos imaginar e, portanto, é decisivo que o educador volte a pensar em como fundir os seus papéis dentro da sala de aula, com os seus papéis dentro da sociedade, para que ele não veja no estudante alguém inferior a ele, para que se desprenda de uma vez de qualquer enlace com a dominação cultural e para que deixe de ser um instrumento das elites. É claro que o professor pode ser, como diz um sociólogo colombiano, membro de uma anti elite. A criação da anti elite não está na vontade de um professor isolado, mas é parte de um processo sociocultural e, nesse processo, os professores têm um papel decisivo.
O segundo ponto é o mais importante em toda a nossa conversa aqui. É claro que um professor que leciona numa sociedade rica, desenvolvida, pode não ter de se preocupar com certos temas. A mesma coisa acontece com o clero. O clero da Europa avançada e dos Estados Unidos tende a ser muito mais leniente para com os poderosos do que o clero que vive, por exemplo, os dramas humanos do Nordeste ou das favelas de São Paulo. Os que têm experiência com o pensamento de Paulo Freire já sabem qual é essa pedagogia dos humilhados e ofendidos, dos oprimidos, e qual é o mínimo que diz respeito à elaboração de uma pedagogia dos oprimidos e que, dialeticamente, só pode ser uma pedagogia da desopressão. Não existe uma pedagogia dos oprimidos, existe uma pedagogia da desopressão, da liberação dos oprimidos.
A controvérsia, aí, seria a de se saber se é pela via da instituição, se é pela via dos professores ou das elites culturais que os oprimidos se emancipam. Em geral, essas fontes apenas ajudam. Podem dar um pontapé inicial, mas o processo precisa ser muito forte e dinâmico na sociedade, para que isso se propague e para que um pedagogo rebelde e o conjunto dos professores, que estejam porventura envolvidos num processo de transformação, pensem a realidade politicamente. Pensar politicamente é alguma coisa que não se aprende fora da prática. Se o professor pensa que sua tarefa é ensinar o ABC e ignora a pessoa de seus estudantes e as condições em que vivem, obviamente não vai aprender a pensar politicamente ou talvez vá agir politicamente em termos conservadores, prendendo a sociedade aos laços do passado, ao subterrâneo da cultura e da economia.
Mudança, substantivamente, sempre é mudança política. Se o professor pensar em mudança, tem que pensar politicamente. Não basta que disponha de uma pitada de sociologia, uma outra de psicologia, ou de biologia educacional, muitas de didática, para que se torne um agente de mudança. E nesse caso, por exemplo, Dewey e sua escola deram uma prova muito rica do que o pragmatismo norte-americano conseguiu fazer, usando a escola como instrumento de transformação do meio social ambiente. É muito importante estudar o que foi feito nos Estados Unidos, tentando aproveitar os recursos materiais e culturais do ambiente, para modificar a relação do estudante com a sociedade.
Observe-se, por exemplo, o que disse certa vez um padre: “um ser humano não pode ser cristão no Brasil nas presentes condições materiais, sociais e culturais de vida”. Não há elementos que criem a humanidade desse ser e que nele despertem a consciência de uma humanidade, que pode sentir-se ofendida e rebelar-se contra a opressão. Para que o catolicismo se torne possível, é preciso criar um novo tipo de homem. Não se trata aqui da revolução socialista em Cuba ou de criar um homem socialista, como dizia Guevara. Trata-se de encontrar o homem na situação brasileira, de desobjetificar e de humanizar o ser humano que vai para a escola despojado das condições mínimas para passar pelo processo educacional.
A violência desaba nas escolas primárias, secundárias, e até nas escolas superiores, em termos de destruição de equipamentos, de salas de aulas, de brutalização de estudantes, de professores e diretores. E há outra ordem de problemas. A deterioração que ocorreu no sistema de ensino, da qual é exemplo a recuperação do mandonismo, levou as classes dirigentes a empobrecerem a revolução nacional e retirarem da educação aquele mínimo que antes a caracterizava. E qual foi a consequência? Houve uma deterioração rápida de todas as escolas, tanto em nível de ensino pré-primário e primário, quanto em nível de ensino médio e superior. E há problemas ainda mais graves, porque, afinal de contas, nesse despertar, estudantes e professores entendem que formam uma comunidade. Eles querem expandir-se como uma comunidade, quebrar aquelas barreiras, que antes introduziam diferenciais de classe não efetivos nas relações de estudantes e professores. E encontram o caminho barrado, por meio de várias vias: incompreensão dos meios de comunicação de massa, incompreensão do próprio Estado que, na sua essência, opera como um Estado de classe altamente conservador. Haveria ainda muitos problemas a salientar, inclusive o desnivelamento pelo qual passa a atividade do professor, que é um desnivelamento profissional e também econômico e, sendo as duas coisas, acaba sendo cultural. O professor que perde prestígio como profissional, perde renda e também perde tempo para adquirir cultura e melhorá-la, a fim de ser um cidadão ativo e exigente. É notória a introdução de concepções que degradam e subestimam o ensino público, enaltecendo o ensino privado e que acabam por fortalecer a ideia de que a educação, para ser responsável, precisa ser sobretudo uma mercadoria. Assim, é possível arrolar vários problemas e temas que mostram a necessidade de o professor, no seu cotidiano, ter uma consciência política aguda e aguçada, firme e exemplar. Não que ele deva se tornar um Quixote ou um espadachim. Mas ele precisa ter instrumentos intelectuais para ser crítico diante dessa realidade e para, nessa realidade, desenvolver uma nova prática que vá além da escola.
O professor precisa se colocar na situação de um cidadão de uma sociedade capitalista subdesenvolvida e com problemas especiais e, nesse quadro, reconhecer que tem um amplo conjunto de potencialidades, que só poderão ser dinamizadas se ele agir politicamente, se conjugar uma prática pedagógica eficiente a uma ação política da mesma qualidade.
Referência:
FERNANDES, Florestan. A formação política e o trabalho do professor? In: OLIVEIRA, Marcos Marques de (Org.). Florestan Fernandes. Recife: Massangana, 2010, p. 119- 140.
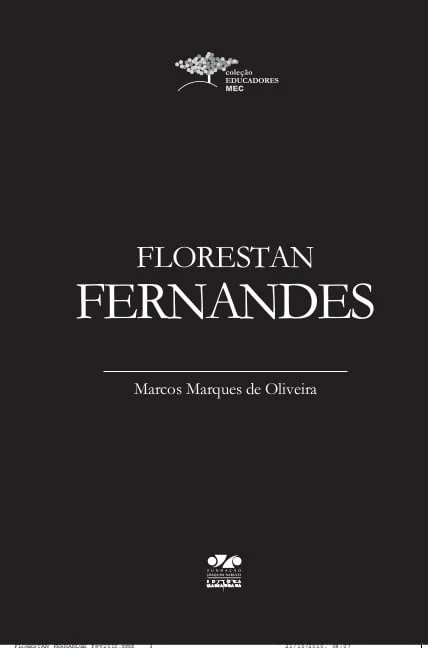










Comentários
Postar um comentário
Evitar comentários que: (1)sejam racistas, misóginos, homofóbicos ou xenófobos; (2) difundam a intolerância política; (3) atentem contra o Estado Democrático de Direito; e (4) violem a honra, dignidade e imagem de outras pessoas. Grato pela compreensão.